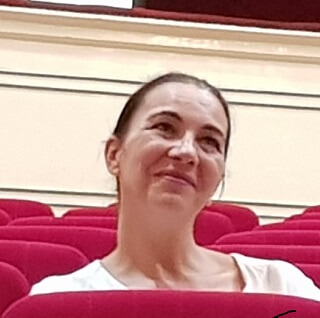É provavelmente um dos mais antigos autarcas atualmente em funções na Madeira. Bem disposto, Carlos Teles, nascido na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, entrou pela primeira vez na Câmara Municipal em 1993, para trabalhar com Manuel Baeta. Mas no edifício vermelho que se ergue imponente na margem da ribeira, já tinha entrado de calça curta, quando ali fez o 2º ciclo, curiosamente na mesma sala onde hoje trabalha. Os primeiros anos tinham sido no Externato São Francisco Sales, uma instituição privada na sua freguesia.
A conversa, que correu na altura do aniversário do concelho que dirige desde 2013, serviu sobretudo para conhecer a pessoa que no 10º ano foi estudar para o Funchal, no Girassol, na área de Letras. O importante era mesmo fugir à Matemática, mas no seu caso até era por gostar muito de História. Por causa do secundário, teve de ir viver com a avó para Câmara de Lobos. Era mais perto da grande cidade dos anos 80 e continuava no seio familiar, onde também estavam outros primos.
Às sextas, entrava no autocarro para as quatro penosas horas nas curvas intermináveis da costa sul até chegar a casa. Parava em todos os locais, havia desdobramento. Hoje, sorri ao olhar para esse tempo, o tempo em que teve um professor de Antropologia Cultural que lhe pediu que repetisse o sítio de origem, porque não entendera. Então o aluno lá teve de improvisar umas noções de geografia a partir da Calheta, o único nome que dizia alguma coisa ao docente. “Então eu expliquei que depois da Calheta vinha o Estreito da Calheta e que depois vinha a freguesia dos Prazeres. Achou tanta piada que fiquei conhecido pelo ‘Prazeres’ durante todo o 10º ano”.
Foi nessa altura da sua vida que vieram as primeiras festas de garagem, a ansiedade pelos “slows” para dançar com uma miúda gira e as primeiras tropelias, próprias de rapazes da sua idade.

Os 15 meses de tropa
A meio do 12º ano mudou para a Francisco Franco. Transferiram duas turmas, o Girassol estava pequeno demais. Encontrou uma escola grande em cidade grande, mais um choque na vida do adolescente que desde sempre frequentara a praia no Jardim do Mar, com a família. Desciam as escadas que rendilhavam a freguesia e alcançavam a zona de grandes rochas onde hoje termina a promenade que tanto atrai turistas e locais.
O Jardim do Mar é, de resto, uma das oito freguesias do concelho mais extenso da Madeira. O concelho que deixou de ver amiúde quando a tropa o colocou na Escola de Sargentos, em Mafra, no Inverno de 1988. “Aí é que estraguei tudo”, diz, deixando uma gargalhada espontânea espalhar-se pela sala. No quartel aproveitou, como quase todos os jovens faziam, para tirar carta de condução. Mas antes disso, teve a experiencia de andar de avião pela primeira vez. Ele e mais 39 madeirenses foram enfiados na TAP a caminho de Lisboa, onde tiveram literalmente de se desenrascar para ir ter a Mafra. Não sabia minimamente o que ia encontrar.
Ainda “apanhou” 15 meses de farda e nos primeiros seis, quando estava no continente, habituou-se a ver sair às sextas-feiras os do lado de lá e ficava, com os outros das ilhas, dentro do quartel. Mas isso era quando não se aventuravam a sair em direção à praia, na Ericeira, para onde chegaram a ir a pé, ao longo de dez quilómetros. Como tantos outros jovens, guarda boas recordações da vida militar e, no seu caso, até fez um compadre.
O primeiro carro era uma bomba
Os estudos ficaram, pois, pelo 12º ano. Quando a pessoa se habitua a ter o seu dinheirinho, diz, é difícil voltar a estudar. Por isso diz, a brincar, sempre bem disposto, “estraguei tudo quando fui para a tropa”. O primeiro emprego foi no Clube dos Prazeres, onde servia ao balcão. Depois, o pai comprou “O Tosco”, para onde foi trabalhar, com a mãe. Havia só mais uma empregada. As coisas correram bem. Foi com o ordenado que comprou o seu primeiro carro, um Citroën AX GT vermelho. Uma bomba…
Talvez tivesse sido por isso que foi para a Escola de Condução da Calheta, para os serviços administrativos. Depois de um ano, fez um concurso para o Banco Totta & Açores e voltou ao Funchal. Voltou a casa da avó, durante uns meses e foi “caçado” pelo Banco Espírito Santo, que lhe ofereceu o lugar de prospetor para a Calheta. Uma categoria que hoje em dia não existe, como também não existe o banco.
Casou. Assentou arraiais no concelho onde nasceu, “tratávamos das contas de muitas pessoas, quem não podia levantar dinheiro no banco, esperava que o banco fosse a elas”. Eram pessoas a quem se confiavam depósitos e levantamentos, pessoas respeitadas pelos clientes, eram a única ligação que muitas delas tinham ao balcão.
Depois de ir para a autarquia, um dia passou pela Ponta do Pargo e uma senhora aproximou-se a pedir satisfações: “Então, o senhor nunca mais apareceu?” Teve de lhe contar que a vida tinha tomado outro rumo, apesar de hoje ainda ser bancário. Pertence aos quadros do Novo Banco. Que não existia na sua altura. Como também já não existe o cargo que exercia…
Passou pelo Parlamento madeirense, num mandato curto. Aprendeu a importância do papel de autarca. E sorri ao dizê-lo. Com o passar dos anos, aprendeu também a valorizar o tempo que passa com a família, mas quando tira férias vai sempre de olho clínico a aprender tudo o que possa para aplicar no seu concelho. Tem é de sair da Madeira. Porque se estiver aqui, batem-lhe à porta, seja de dia, de noite, ao fim de semana, o que for. Mas não se importa, nunca fez outra coisa na vida que não fosse atender pessoas e gosta disso.
Faz um balanço positivo dos anos que ficaram para trás e aconselha sempre quem entra nas suas equipas que “no dia em que entrarem na política têm de estar preparados para sair”. Porque “isto não é profissão, estamos aqui de passagem”.

Um quarto de século na Câmara
Quem está numa autarquia desde os 25 anos, tendo sido um dos autarcas mais jovens do país, sabe do que fala. Aprendeu muito com o pai, de outro partido, com quem falou antes de aceitar o convite. Gostava do projeto e foi isso que o fez aceitar, era um desafio diferente. Da altura, retém as palavras do pai: “és maior e vacinado, casado e fazes o que a tua consciência mandar”.
Foi com o pai que aprendeu o que era a democracia e era a ele que recorria quando precisava de conselhos mais importantes, apesar de ter um respeito e admiração enormes por Manuel Baeta, com quem trabalhou 20 anos. Aprendeu muito com o ex-presidente.
Está longe de ter o concelho que quer. Ainda se pode melhorar muito, apesar de as grandes obras estarem feitas. A Calheta está um mimo, é um facto. Há que ter cuidado para fazer daquele município uma referência a nível turístico, sem estragar a agricultura, que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do concelho. “Somos abençoados por um excelente clima”.
Carlos Teles quer realizar o sonho de ocupar um edifício de raiz para os serviços da autarquia. Os funcionários, os munícipes e os investidores merecem ser recebidos de outra forma, até porque a Calheta é neste momento o segundo concelho com mais camas de alojamento local em toda a Região. Os números, a rondar os 500 registos, falam por si e a procura tem aumentado a olhos vistos num concelho especial, que comemora 516 anos este fim de semana.